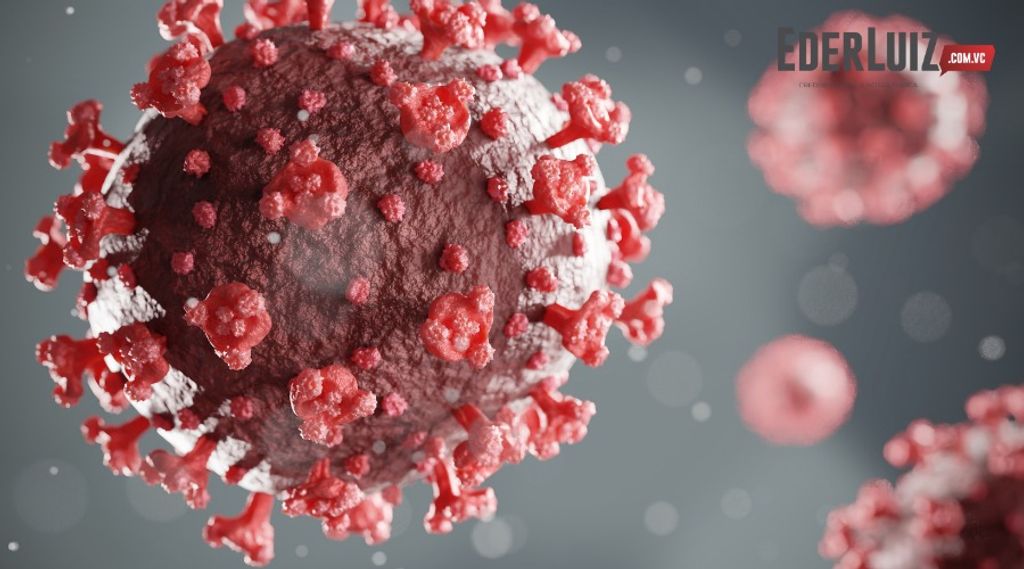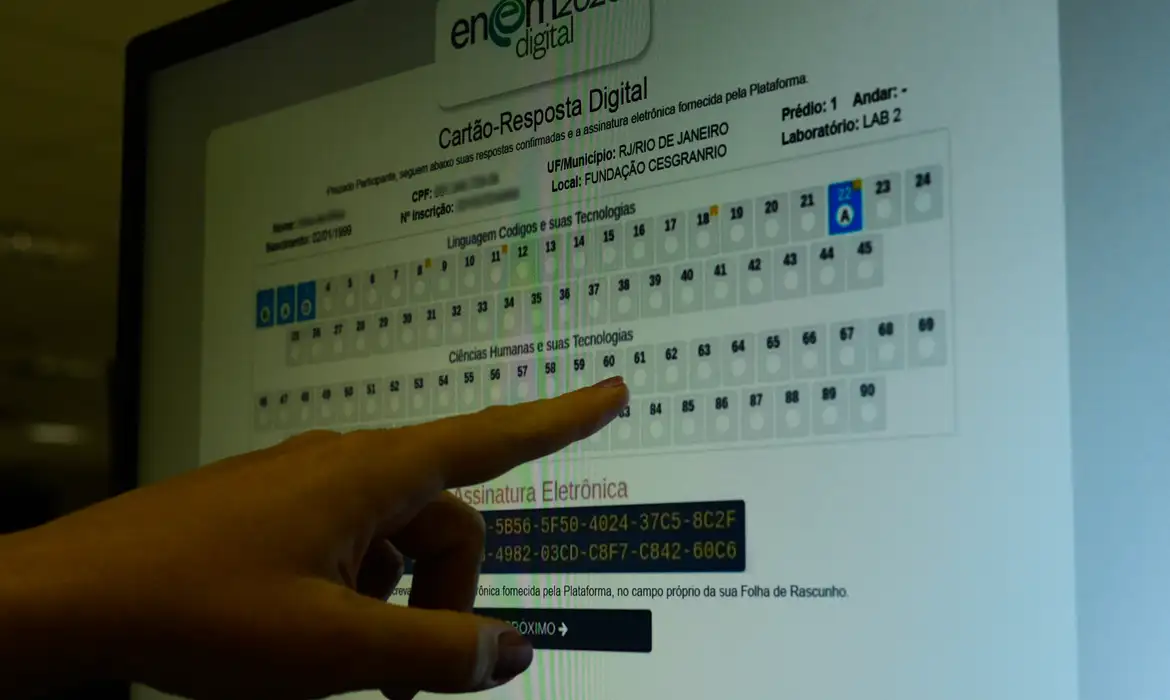Se nós não tomarmos medidas mais restritivas agora, se nós não conseguirmos, como sociedade, entender a necessidade de cobrarmos dos governos e aderirmos às campanhas por distanciamento e vacinação, nós não poderemos esperar, infelizmente, um 2021 muito diferente do que foi o 2020.
É o que alerta Fernando Rosado Spilki, epidemiologista, pesquisador e coordenador da Rede Corona-ômica.BR, do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações, responsável pelo sequenciamento do vírus SARS-CoV-2 em universidades e centros de pesquisa brasileiros, e professor titular da Universidade Feevale, de Novo Hamburgo (RS).
No começo de março de 2020,
em entrevista polêmica ao Extra Classe, quando ainda ocupava o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Virologia (SBV), Spilki adiantou as medidas necessárias de afastamento social e de suspensão de aulas presenciais nas escolas.
Na época, suas falas em conjunto com as de outros cientistas geraram grande repercussão na sociedade, extrapolando o meio universitário e escolar, se espalhando rapidamente pela sociedade e nos demais meios de comunicação regional.
Um ano depois, o pesquisador, que coordena a pesquisa que descobriu a variante gaúcha da covid-19, fala das novas variações e quais são as mais perigosas, do retorno das aulas presenciais, da lentidão da vacinação no Brasil e o que ainda pode ser feito para combater a pandemia.
Extra Classe – Há um ano, em 13 março de 2020, em entrevista ao Extra Classe, o senhor antecipou em algumas semanas as medidas restritivas e de isolamento social que viriam. Inclusive no que se referia às aulas presenciais em escolas públicas, privadas e universidades, o que foi bastante polêmico. Como o senhor avalia este ano de pandemia?
Fernando Spilki – A gestão da pandemia como um todo no Brasil aconteceu de forma errática e resultou num processo diferenciado. Tivemos a primeira onda da forma como estava prevista. Houve um arrefecimento da sua magnitude de número de óbitos, seguramente causado pelo afastamento social iniciado em março e abril e que se manteve até as eleições de setembro.
A partir de então, o próprio arrefecimento momentâneo da pandemia, o cansaço da população, as pressões financeiras, o mau manejo das medidas de controle, fizeram com que a população abandonasse, e não se preocupasse mais da mesma forma.
Quando o senhor fala em mau manejo, refere-se a todos os níveis do poder público: federal, estadual e municipal?
Sim, em todos os níveis. Não há dúvida, que na forma como vem sendo conduzida pelo governo federal há uma série de problemas. Porém, até mesmo a nível estadual, apesar de alguns méritos na estratégia, se buscou flexibilizar demais e de forma inadequada. Sempre se atacou detalhes e nunca o cerne do problema.
Por exemplo, muitas vezes se preocupavam num restaurante, se usaria ou não luvas, quando o que deveria ser o foco era a quantidade de gente trabalhando e consumindo e por quanto tempo. O trabalhador é o mais atingido. Seria necessário reinventar maneiras de evitar isso.
Nesse sentido, tivemos medidas muito paliativas. E aí, chegou um momento em que foi ruim para o estado e ruim para as prefeituras. Que foi o sistema de implantação da cogestão.
Por que a cogestão é ruim, professor?
Porque, de certo modo, a gente entende alivia a pressão do governo estadual, mas joga uma pressão muito grande para cima dos prefeitos, que são bem mais vulneráveis aos empresários locais. E, as prefeituras que já não vinham sabendo manejar tão bem, agravaram o quadro.
Dá para dizer que é um efeito em cascata? Que o governo federal, por desejar o afrouxamento de medidas de distanciamento, jogou responsabilidade no colo dos governadores e os governadores, por sua vez, jogou no colo dos prefeitos?
Claro que sim. Inclusive, isso está dentro do discurso do governo. Quantas vezes escutamos de autoridades federais, para se justificar, que o STF tirou a autonomia do presidente e passou para estados e municípios? Isso não é verdade.
O STF não tirou autonomia, mas reafirmou a autonomia de estados e municípios conforme a Constituição. E reafirmou essa autonomia justamente porque não havia uma coordenação central. naquele momento, que apontasse uma política clara para o país como um todo. A falta de uma coordenação central transfere um peso enorme aos estados.
Um jogo de pressões?
Os estados, sabemos, recebem pressão violenta de federações e conglomerados econômicos, para que hajam determinadas liberalizações. E o RS, por meio da cogestão, aliviou um pouco dessa pressão, transferindo aos prefeitos. Mas, vejamos bem. A falta de uma coordenação central foi muito nociva para o combate à pandemia.
Onde a coisa desandou?
A gente veio numa certa calmaria até setembro e outubro. Tivemos eleições. Logo depois veio novembro, já se avizinhando dos eventos próprios do final do ano. E, depois de um período muito grande de convivência com a pandemia, as pessoas se liberalizaram demais. Se deu muito espaço para o vírus evoluir, tanto do ponto de vista das gestões, quanto do ponto de vista dos indivíduos. E, agora temos essas variantes todas da covid-19, que são o grande problema atual.
E, simultaneamente, não havia também, nenhuma campanha nacional, estadual ou municipal de conscientização orientar a população. Não se via clareza de política pública para o enfrentamento do problema.
Exatamente. Se olharmos bem, quem fez a divulgação de dados, quem revelou a situação momentânea (nacional e local) a cada momento da pandemia, quem informou e fez uma verdadeira campanha de esclarecimento do público, foram as mídias convencionais e os órgãos de imprensa como um todo.
Se não fosse isso, hoje estaríamos num mato sem cachorro. Porque não há divulgação de dados de outra forma, de maneira adequada.
Precisamos destacar que os sites dos governos são excelentes. Do Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais. Mas as informações contidas nessas fontes tiveram de ser trabalhadas e traduzidas pela mídia convencional e pela imprensa de modo geral.
Porém, a imprensa não consegue ocupar o mesmo espaço proporcionalmente, como fonte de informação, que o poder público e que as mídias não convencionais e redes sociais na disputa por conscientização.
Seria diferente se a população escutasse a importância das medidas de prevenção diretamente de seus líderes políticos?
Seguramente. E aí é muito curioso que tenhamos líderes que negam o vírus, a vacina e a gravidade da doença. Acho normal que tenhamos diferenças ideológicas e de convicções políticas. Mas essas coisas não são passíveis de opinião, nem estão sujeitas a inclinações ideológicas.
Convenhamos que são fatos inexoráveis, como é a morte. Não se trata de tema passível de discussão. Mas, infelizmente se ideologizou a pandemia.
E o que a gente vê é isso: sem um discurso adequado das lideranças, sem estratégias efetivas de comunicação, a população fica órfã e é alijada de informações que pudessem atingir e unificar um país polarizado.
Nos EUA, mesmo na época de Trump, houve generoso aporte econômico, mais agora com Biden. O presidente Jair Bolsonaro apesar de fã de Trump, nesse quesito foi na contramão do que seria mais sensato, inclusive para preservar a economia, que passaria por garantia de renda aos mais vulneráveis e pequenas empresas. Qual sua visão?
É isso. Não se consegue fazer lockdown nem distanciamento social de qualquer espécie, sem medidas econômicas condizentes, que ofereçam segurança financeira mínima para as famílias e para as empresas. Essa questão é fundamental. E sem isso não tem como dar certo. O interesse predominante foi de não parar. Foi o que vimos do nosso governo.
Em oposição a isso, no governo Biden foi feito um nível tal de injeção de recursos que poderá ter um impacto de meio por cento no PIB brasileiro, só pelo incremento do consumo das famílias americanas.
Ou seja, uma medida nos EUA, afirmativa, não só alavancará a economia norte-americana, como respinga nos seus parceiros comerciais de forma indireta. São medidas que dinamizarão positivamente não só a economia dos EUA, mas também dos seu bloco comercial nas américas. Esses auxílios chegam numa hora em que as famílias e empresas precisam de recursos para encarar esse período de pico da pandemia.
No Brasil, tivemos uma política muito tangencial desde o início. Se não fosse o Congresso aumentar no ano passado os valores do auxílio emergencial, não teria sido nem perto do que foi.
A atual política não dá segurança para as famílias e não é nem perto do que foi. Também não dá segurança para as empresas. Isso restringe qualquer possibilidade de controle mais adequado da pandemia e do ponto de vista social e econômico leva ao caos.
Existe uma agravante para além da questão econômica e da falta de bons exemplos dos governos no combate à pandemia, que são as variantes. Como se explica isso para a população leiga?
A gente explica pelo seguinte. Primeiro, já fomos capazes de fazer uma variante nossa, gaúcha. Inclusive, foi meu grupo de pesquisa que descreveu.
Isso dá uma ideia da diversidade do quanto o vírus teve espaço para evoluir, mesmo no Rio Grande do Sul, que foi um estado que tomou medidas diferenciadas em relação a outros estados. Medidas que até determinado ponto funcionaram, se levarmos em conta todo o contexto nacional. Só que, infelizmente, se deu muito espaço para o vírus progredir. É como termos dez aviões ocupando todo espaço aéreo brasileiro.
A chance de acidentes será mínima. Mas, se tivermos três mil aviões voando simultaneamente. As chances de acidente são maiores, principalmente não havendo coordenação desses voos. A mesma coisa acontece no processo que é a base da evolução do vírus, que são as mutações. Se você tiver meia dúzia de indivíduos infectados a chance de mutação é mínima.
Mas, se forem 12 mil casos novos por dia ou 24 mil ou 89 mil, como registramos há pouco a chance de que esse processo – que é acidental – ocorra, é muito maior. Então, o descontrole, a não tomada de medidas eficientes, no Brasil e noutros países (é preciso que se diga) nessa segunda onda, é o que está na base da geração dessas variantes e da evolução do vírus.
Quais as variantes mais preocupantes?
São centenas de linhagens que vêm se formando desde o surgimento do vírus em 2019. Hoje, depois da segunda onda, temos mais de 50 variantes circulando no mundo.
Três delas nos preocupam muito: a da África do Sul, que praticamente não tivemos relatos no Brasil; a variante britânica, muito disseminada no Brasil e que pode se disseminar cada vez mais e se tornar um problema ainda maior nas próximas semanas e a variante P.1, que é a variante de Manaus, já bastante disseminada no estado desde dezembro passado.
Por que preocupam?
Das dezenas que foram descritas no Brasil, essas três são as mais preocupantes por terem uma maior transmissibilidade. O que precisamos entender é que essas variantes poderiam ter sido bloqueadas com distanciamento, antes de surgirem, pois estariam restritas. E as medidas para combater, agora que já se disseminaram, são duas.
Uma delas é a implementação de medidas restritivas, que estamos muito longe do ideal. A outra, que estamos muito atrasados, é a vacinação.
Se nós não trabalharmos de maneira responsável uma vacinação rápida, não tem solução mágica.
Aliás, surpreendeu o quanto se desenvolveu e liberaram rápido as vacinas. Por outro lado, como está sendo lento o processo de vacinação. É inacreditável a lentidão no processo.
Não temos hoje vacina suficiente, na velocidade suficiente para conseguir bloquear isso. Então, temos de investir no distanciamento, que tem mostrado resultados quando realizado de forma efetiva.
Infelizmente, essa proliferação de variantes não vai parar por aí. Sabemos que a vacina age sobre a maioria dessas variantes.
As 20 cepas no RS e a variante gaúcha
Spilki coordena a pesquisa que descobriu variante gaúcha da covid-19 / Feevale/Divulgação
É verdade que circularam no Rio Grande do Sul pelo menos 20 cepas diferentes do novo coronavírus?
Sim. Nós já vimos circular no estado, contando as linhagens mais antigas e as atuais, em torno de 20 cepas. No Brasil, nós temos um contexto ainda mais amplo. Mas, basicamente é isso. O que acontece é que sempre temos entre cinco e oito cepas circulando simultaneamente, conforme os levantamentos que fazemos.
E o que isso revela?
Revela que, do ponto de vista do controle, talvez não tenhamos aproveitado adequadamente os momentos de baixa transmissão para evitar que uma nova onda se avizinhasse. Talvez esta seja uma das graves falhas que a gente tem.
Pois, quando a gente começou a avisar que a curva estava subindo no final do ano de 2020, ou que estabilizou num nível muito alto em janeiro, estes avisos talvez tenham sido mal trabalhados e devessem melhor explicados no futuro e, também melhor escutados. E, não apenas no estado, mas no país.
Pois agora vamos ter problemas devido aos níveis de magnitude desta onda são altíssimos. Uma hora a gente vai ver ela baixar. Só que precisamos ter consciência de que para cada onda que baixa, outra sempre levanta.
Porém, eu sou particularmente bastante pessimista de que a gente vai ver este abaixamento. Tudo indica que ficaremos com um nível de estabilização num patamar muito superior ao que nós vivemos após a primeira e após a segunda onda. Ou seja, se estabilizar será num nível alto.
A palavra estabilização não passa uma ideia errada para a população de aspecto positivo?
Sim, passa essa impressão. Não deveria. Pois não é nada bom. Até porque se for uma estabilização em nível alto, a subida da lomba, depois, será ainda pior ao longo do ano.
O que fazer para baixar?
Distanciamento e vacina. A gente tem pedido as duas coisas. Porém, tenho certa reserva quanto ao otimismo.
Digo isso porque o distanciamento, de fato, não é tão grande. Dificilmente tem passado de 30% da população. Temos muitas atividades funcionando a pleno. E, o distanciamento efetivo registrado está muito próximo do normal, sem pandemia, para que a gente tenha um efeito significativo. Eu acho que, de uma maneira muito prudente e respeitosa, o momento seria de reforçar medidas.
Mas o que vemos aí são ideias de flexibilizar. A pressão se dá no sentido oposto.
A que o senhor atribui a lentidão na vacinação? E é uma questão mundial?
Eu acho que não nos preparamos adequadamente. Pelo afã de um desenvolvimento muito rápido, assim que as vacinas estavam testadas, já se disponibilizou. Talvez não tenhamos pensado nas limitações econômicas do processo. Falo da questão de compra e de logística. E na própria questão de produção.
O ideal seria já termos, de largada, vacinas o suficiente para vacinar um contingente muito importante da população. E os países conseguem fazer isso.
O Brasil tem essa capacidade logística, pois já vacinou 11 milhões de crianças em um dia. Então existe preparo e capacidade para trabalhar melhor. Na H1N1, foram 80 milhões de doses na primeira leva. Foi questão de semanas.
Na H1N1 tinha a vacinação privada ocorrendo em paralelo. Como o senhor vê iniciativas do setor privado e de entidades nesse sentido?
Sim, mas agora eu tenho serias dúvidas se a vacinação privada seria a melhor ferramenta. Diferente da H1N1, existe uma escassez muito grande de vacinas. Então, desprotegeria ainda mais as populações vulneráveis. É justamente por isso que o sistema Covax, da OMS, preconiza o repasse das vacinas com prioridade para a saúde pública.
E o que faltou para efetivar?
Uma coisa que faltou, e muito, foi cooperação internacional. É incrível que tenhamos tantos organismos internacionais e não tenhamos evoluído no sentido de viabilizar a distribuição das vacinas.
A busca por vacina, virou uma disputa de primazia econômica, justamente para ver quem começa a ter suas atividades econômicas restabelecidas primeiro. Basicamente é este o jogo.
E o Brasil está jogando contra seus próprios interesses de retomada da economia?
Parece absurdo, mas é isso mesmo. Nós nos atrasamos demais nesse processo e teremos danos econômicos irreparáveis por conta disso.
Hoje, com os números atuais, não é momento de se pensar num retorno mais
efusivo às aulas presenciais / Marcelo Camargo/Agência Brasil
E no meio educacional, como o senhor vê os movimentos que de um lado pedem o retorno presencial e de outro o lockdown?
Existem alguns elementos que nos fazer pensar que o retorno às aulas precisa ser feito com muita prudência. Que fatores novos, hoje, nos dizem isso?
Primeiro, nessa terceira onda, por motivos que devem ser relacionados às novas variantes e ainda a magnitude do processo – há um surto de proporções muito maiores do que tivemos antes –, estamos vendo muito mais casos entre crianças e jovens.
Então, não é mais o debate de a criança ser ou não transmissora, mas o da criança vir a adoecer.
Proporcionalmente pode não ser muito maior, mas é um fato o número de casos ter aumentado. Isso já é relevante por si só. Ainda bem que não de forma grave na maioria dos casos.
Porém, é indiscutível que há muito mais casos de adoecimento em crianças. Segundo, há evidências de que a variante britânica, que está muito disseminada no Brasil, atinge com grande frequência indivíduos abaixo dos 20 anos de idade além das demais faixas.
Então, temos questões do vírus a considerar. Em terceiro, a vacinação no grupo dos professores ainda não está implementada. Este ponto precisaria de mais cuidado. Então, temos a questão da contaminação das crianças e dos professores.
Sabemos de todos os desafios que vive a educação, mas este é o tipo do tema, que talvez, a situação mais adequada fosse postergar o próprio debate para mais adiante, mais algumas semanas. Hoje, com os números atuais, não é momento de se pensar num retorno mais efusivo às aulas presenciais.
E os protocolos?
Sim, há protocolos possíveis para minimizar riscos, mas numa situação de transmissão e de epidemia que teria de ser diferente dessa que estamos vivendo.
Os protocolos antigos, criados no começo da pandemia podem dar conta independente das variações novas, mas não há como se sustentarem neste momento, diante deste altíssimo número de casos.
Em uma escola a quantidade de cruzamentos sociais é muito grande e não há como mencionar as condições de como cada família encara as práticas de não exposição ao vírus. Precisaria de uma taxa menor de casos para que as famílias estejam mais saudáveis o que geraria um ambiente mais seguro.
Mas, neste momento atual a todo momento sentimos a proximidade do vírus, levando uma pessoa conhecida nossa a adoecer ou a um parente. Muitos indo a óbito. Não é mais algo abstrato que olhamos com distanciamento. E é assim porque está muito disseminado nas famílias. Portanto, estamos longe do ideal para retornar às aulas presenciais.
Lotação de leitos de UTI segue há mais de um mês acima de 110% no estado,
que está com alerta máximo de contágio / Agência Brasil
O que o senhor aconselha?
Deveríamos aguardar, ao menos, o arrefecimento desta onda. Um conselho que tenho dado é que as coisas não sejam feitas de sopetão. Ao menor indício de queda das taxas de contaminação, as flexibilizações são abruptas e desproporcionais.
O que proponho sempre é que as retomadas deveriam ser feitas paulatinamente e de forma mais segura. O que se tem feito é como alguém que quebra as duas pernas e sai para correr 100 metros rasos no dia em que tira o gesso. É óbvio que não vai dar certo. Parar as atividades é tão complexo quanto retornar.
E do ponto de vista prático com a realidade que aí está?
Se a gente não tomar medidas mais restritivas agora, se nós não conseguirmos, como sociedade, entendermos a necessidade de corrermos atrás, de cobrarmos e aderirmos às campanhas por distanciamento e vacinação, nós não podemos esperar um 2021 muito diferente de um 2020.
Quando falo de medidas restritivas falo de um distanciamento social próximo de um lockdown, por quatro semanas ou mais, que respeite as questões de epidemiologia do vírus e principalmente fosse capaz de dar um desafogo para o sistema de saúde.
Algo como ocorreu no começo da pandemia, quando se chegou a mais de 70% de distanciamento. Só que isso num mundo ideal. Não adianta baixar de 120% para 116%. Aí quebra o sistema da mesma forma.
O que vemos é a ampliação de UTIs ao invés de reduzir a quantidade de pacientes.
Exatamente. Deveríamos lutar pelo contrário, para reduzir o número de pacientes e fazer sobrar leitos nas UTIs. Até porque o índice de letalidade da covid-19 nas UTIs é alta. Só a partir da queda realmente significativa dos números de mortes e contágios é que poderemos traçar um novo começo, com protocolos e planejamento adequados.
O ideal é que este período proposto de afastamento social, fosse protegido pelo estado para que as pessoas, as famílias e as empresas como passar por isso. Isso seria o melhor investimento do ponto social e econômico que o poder público poderia fazer. Infelizmente sou pessimista com essa possibilidade.
Fonte: BdF (RS)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/e/L/C1PakJQzAiMXWRzHLx3Q/mae-e-filha.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/i/Z/BsuTfYQRu4rqnEg1hWug/professora-pediu-oracoes-pela-filha.jpg)